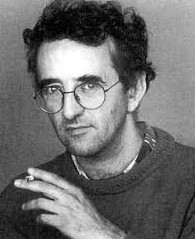Em 2006, oito anos depois de sair na Espanha, chegou ao Brasil o romance “Os detetives selvagens”, de Roberto Bolaño (Companhia das Letras, tradução de Eduardo Brandão). A data merece ser lembrada porque se trata de um acontecimento: embora já tivesse dado as caras por aqui com a novela “Noturno do Chile”, foi naquele momento, três anos após sua morte, que o escritor chileno – um desterrado que viveu no México antes de se radicar na Espanha – finalmente explodiu no Brasil, com toda a potência de sua literatura maior. Acabou virando moda, como se sabe. Os lançamentos de Bolaño, inclusive de títulos pouco importantes, se sucederam, e em 2010 seu tijolão póstumo “2666” teve muito mais repercussão do que havia tido “Os detetives…”, embora seja este, a meu ver, seu melhor livro. É praticamente impossível extrair desse romanção polifônico, estruturado como um caleidoscópio de vozes que se complementam e se negam em igual medida, um trecho curto que dê ideia da amplitude que Bolaño consegue abarcar e das profundezas que logra sondar com seus personagens desesperados. Estes são escritores em sua maioria, “artistas” todos, e vivem como farsa dolorosa suas vidas “artísticas” num mundo em que a relevância de…
Trazer para a seção “Que cena!” o escritor goiano José J. Veiga (1915-1999) é uma forma de acenar para o adolescente que eu fui. O livro de contos “Os cavalinhos de Platiplanto”, de 1959, e o romance “A hora dos ruminantes”, de 1966 – ambos relançados recentemente pela Companhia das Letras em caprichadas edições de capa dura – me deram mais do que prazer de leitura naquele miolo da década de 1970 em que chegaram às minhas mãos. Veiga parecia apontar um rumo. Um modo possível de escrever. De tão singelo, nem chega a ser embaraçoso que, ao ter um conto publicado numa edição de província, aos 17 anos, eu me definisse como “influenciado por Kafka, José J. Veiga e Poe”. Nessa ordem. Meu gosto juvenil pelo fantástico não tem nada de surpreendente, mas, pensando nisso agora, acho sintomático que o escritor nascido na pequena Corumbá de Goiás ocupasse aquela posição central em minha trindade de cultores do esquisito. O modo como o cara incorporava à sua ficção acontecimentos insólitos, inexplicáveis – como a ocupação de uma cidadezinha do interior por uma multidão de bois na terceira parte de “A hora dos ruminantes”, que começa com a cena abaixo –…
Acredito ter sido, no fundo, o inconformismo com o fato de literatura e vida parecerem habitar duas dimensões tão separadas da existência o que nos levou a inventar um jogo intrincado que misturava folhetim com uma espécie primitiva de RPG – este, embora já existisse, estava longe de fazer sucesso no Brasil e não pode ser considerado uma influência. Estávamos na primeira metade dos anos 1980 e éramos quatro amigos formandos ou recém-formados em jornalismo. Todos apaixonados por literatura, estávamos meio perdidos e talvez assustados (eu pelo menos sim) com as promessas de tédio infinito e massacre cotidiano da criatividade e da alegria que o mundo do trabalho remunerado parecia estender horizonte adentro, a perder de vista. Houve um tempo em que, zeloso de uma coisa arcaica chamada vida privada, eu não nomearia – ou nomearia com pseudônimos – os outros três daquela turma. Hoje esse tempo parece distante, talvez porque eu esteja sob a influência da furiosa evasão de privacidade promovida por Karl Ove Knausgård. De todo modo, não há nada que comprometa ninguém nessas memórias: nem o professor Luiz Carlos Mansur, nem o roteirista David França Mendes, nem o crítico de cinema e escritor Rogério Durst (foto). Além…
Por que alguém leria milhares de páginas autobiográficas de um escritor norueguês que levou e leva uma vida nada excepcional? Páginas centradas em experiências comuns como os problemas de relacionamento de um filho sensível com o pai fechadão e o medo que ele tem de repetir o modelo paterno desastroso quando se encontra por seu turno às voltas com fraldas e mamadeiras, enquanto se angustia por ver escorrer entre os dedos como areia (com clichê e tudo) o tempo que preferiria investir na produção de uma obra literária capaz de dar sentido a uma vida gratuita? Boa pergunta. Talvez porque o sujeito drible poeticamente a banalidade, transfigurando o cotidiano por meio de uma linguagem espetacularmente inventiva? Não, pista falsa: a banalidade pinga de cada página como o óleo esverdeado de um arenque em conserva. O fato é que com tudo isso – e ainda com os repulsivos ecos hitleristas do título – a série “Minha luta”, de Karl Ove Knausgård, tornou-se um fenômeno de popularidade na Noruega, onde vendeu perto de meio milhão de exemplares (número quase ofensivo se levamos em conta que o país tem pouco mais de cinco milhões de cabeças), e um modismo intelectual no restante da…