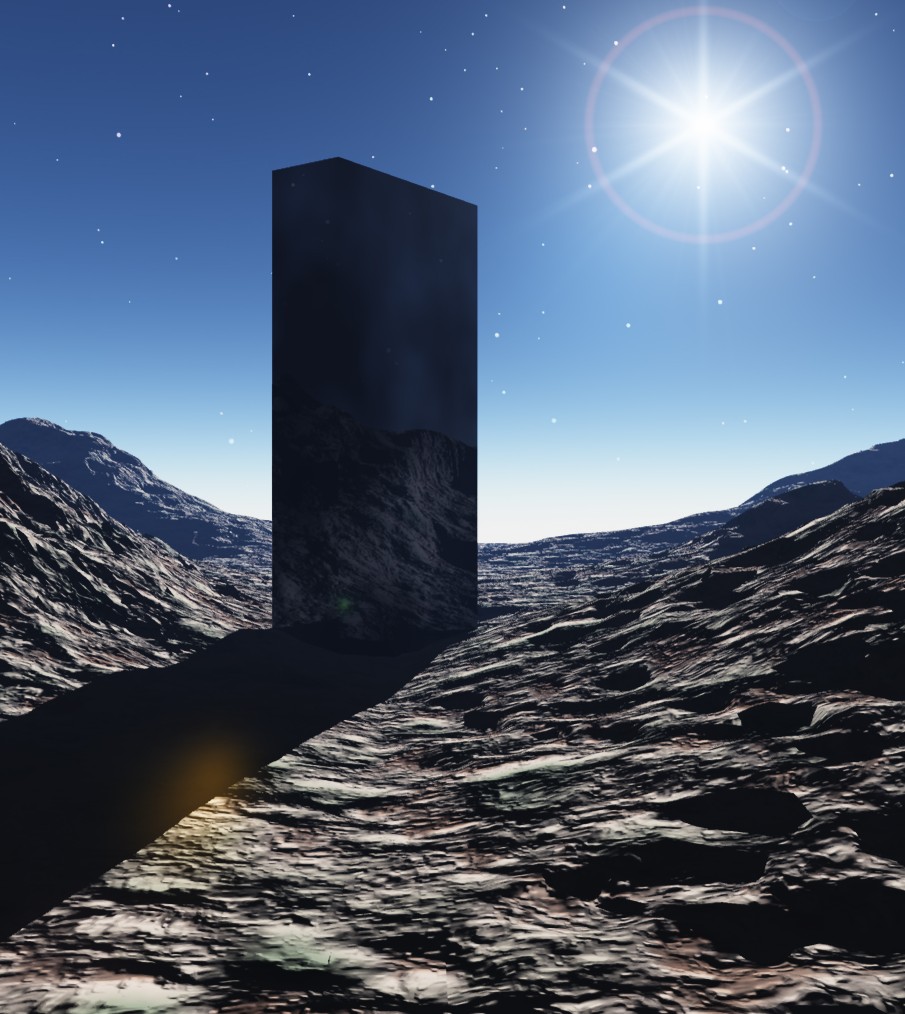“Para um homem de sua idade, cinquenta e dois, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo.” A frase inicial do romance “Desonra”, livraço lançado em 1999 pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee (Companhia das Letras, tradução de José Rubens Siqueira), é tão lapidar quanto enganadora. Não, o professor de literatura David Lurie, especializado em poesia romântica e funcionário de uma universidade na Cidade do Cabo, não resolveu nada bem o “problema de sexo”. Por isso mesmo, na primeira cena abaixo, entrará com sua aluna Melanie, jovem, bonita e aspirante a atriz, numa zona crepuscular entre o sexo consentido e o forçado – tristíssimo, de todo modo, como costuma ser o sexo em Coetzee, ainda que a princípio pareça representar para o cinquentão desiludido uma inesperada volta às boas graças de Afrodite. “Estupro não, não exatamente”, avalia Lurie. O leitor que porventura não ficar convencido será apresentado cerca de cem páginas mais tarde, para que possa comparar, a um estupro incontestável. Mas essa é outra história. As duas cenas abaixo se encontram no começo do romance (nada de spoiler desta vez, moçada) e marcam o início do processo de desonra, destituição e, por fim, completa aniquilação…
Será verdade que só o relato de um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX tem valor como reflexão sobre a forma única e intransferível pela qual os anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX vivenciam sua condição humana? E se a história envolver um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX – e gay? Ou, reparando bem, anã? Devemos criar sempre novos nichos autorais – reservados a anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX gays, mulheres etc. – ou será aceitável que um anão albino estrábico do sexo masculino e heterossexual nascido em Arapiraca no último quarto do século XX exercite sua imaginação para conceber personagens gays ou mulheres que compartilhem sua condição de anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX? Não é de hoje que me assalta a certeza de que certos desdobramentos rasos mas influentes dos estudos culturais, com sua supervalorização do “lugar de fala” como critério de avaliação literária, conduzem reto para o abismo da negação da literatura. Como se isso fosse pouco, terminam por boicotar o que tal perspectiva tem…
Os vapores embriagantes da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que hoje chega ao clímax, são ótimos, mas não negam: o Brasil é um país que despreza a leitura. Entre obrigações escolares, bobagens de autoajuda, cordilheiras de livros para colorir e milhões de exemplares de uma bomba subliterária chamada “Cinquenta tons de cinza”, o brasileiro médio anda lendo 1,7 livro por ano – mais ou menos. Os números costumam variar um pouco, mas foi este que o ministro da Cultura, Juca Ferreira, em entrevista na última terça-feira, chamou de “uma vergonha”. Concordo inteiramente. Mais do que uma vergonha, um motivo de desalento quanto ao futuro do país. Ocorre que a proposta de Ferreira para atacar o problema – uma ampla campanha semelhante “à do Fome Zero e à da paralisia infantil” – não chega a empolgar quem conhece um pouco dessa história. Campanhas de incentivo à leitura são feitas regularmente pelo ministério da Cultura: a de 2012, com o bordão “Leia mais, seja mais”, foi lançada com previsão de investimentos de R$ 373 milhões (mais sobre isso aqui). Iniciativas desse tipo são tão bem intencionadas quanto limitadas. Em parte porque o imperativo costuma soar antipático: “Faça isso!”, diz o iluminado,…