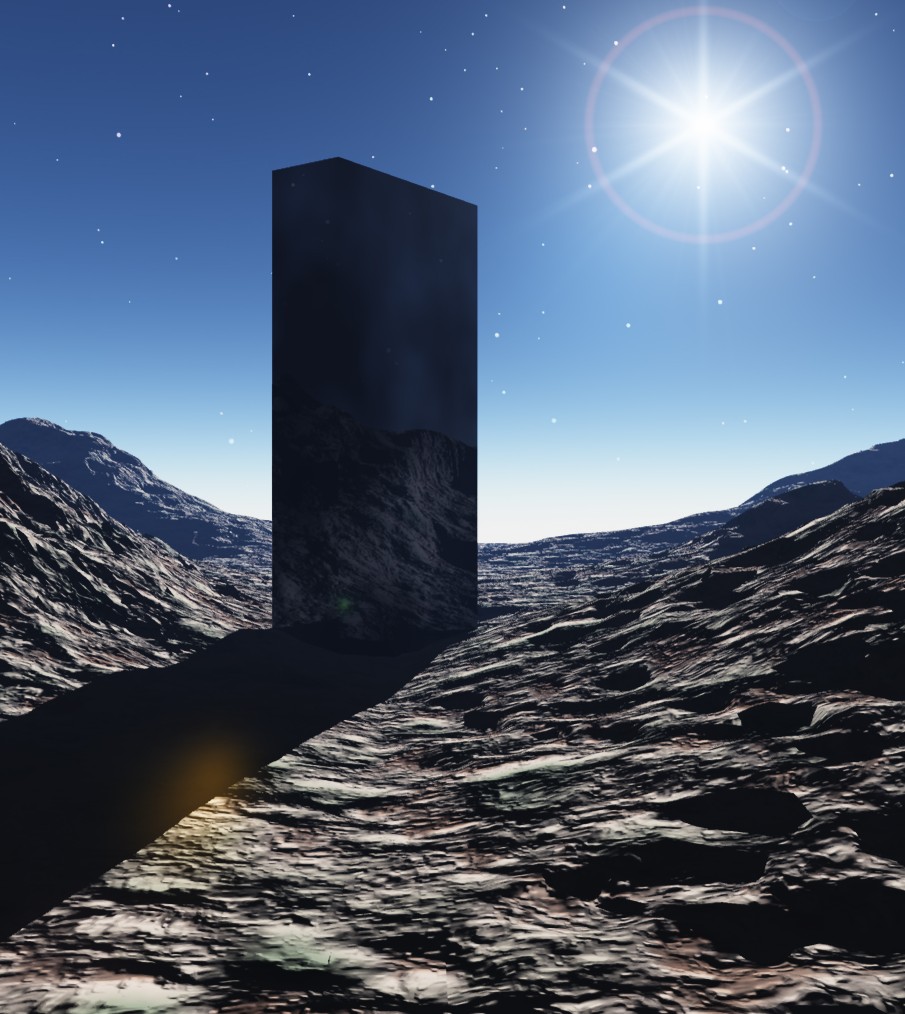Lendo um texto literário, tento decifrar por que ele me agrada tanto e chego à ideia de precisão vocabular. Será isso? Não, claro que nunca é uma coisa só, mas será isso em primeiro lugar – a precisão na escolha das palavras? O fato de as palavras vestirem as ideias como uma malha justa, roupa de mergulhador, segunda pele através da qual a ideia exibe suas formas com perfeição, quase como se já não fosse a ideia de uma coisa, mas a coisa mesmo? * Um dos aspectos intrigantes da caça ao vocábulo preciso, aquilo que Gustave Flaubert chamava de le seul mot juste, é o fato de, sendo tão inerente ao bem escrever, ser tão difícil de ensinar. Para começar, não é nada fácil de definir, e a malha ou segunda pele é uma metáfora desesperada que reconhece essa dureza. Identificamos a precisão quando a temos diante do nariz, mas em que ela consiste exatamente? * Aqui talvez seja necessário afastar a ideia, folclórica mas nunca distante dessa conversa, da “palavra justa” como frescura e álibi para a paralisia do escritor – como parece ter sido muitas vezes para o próprio Flaubert. Se você está escrevendo um conto policial…
“Escrever é cortar palavras”, disse Carlos Drummond de Andrade, mas talvez não tenha sido ele: parece que, na ânsia de enxugar, alguém acabou cortando o crédito. Importa pouco a autoria do conselho. Com essas ou outras palavras, o elogio da concisão é a lição mais ouvida por aprendizes das letras há mais de cem anos. Quer dizer que antes disso o poder de síntese não valia nada? Claro que valia. Os poetas da antiga Grécia cultivaram a brevidade do epigrama. No início do século XVIII, o poeta inglês Alexander Pope, tradutor de Homero, dizia que palavras são como folhas de árvore: quando são muito abundantes, diminui a chance de vislumbrarmos ali embaixo “o fruto do sentido”. No entanto, parece ter sido nas primeiras décadas do século XX que o relógio do mundo acelerou de vez e deixou com cara de obesa uma silhueta textual – a palavrosa – que até então ainda podia ser vista como atraente e saudável. Mais ou menos o que tinha ocorrido um pouco antes com as mulheres de Rubens. Pode-se relacionar esse aguçamento da implicância com o desperdício vocabular a uma série de fenômenos, como a industrialização e a vida urbana. Parece claro que um…
A literatura é hoje um campo que se questiona de modo histérico, com resultados entre o suicida e o narcísico. O discurso literário parece sentir que perdeu o direito à existência. O que quer que o justificasse perante si mesmo não o justifica mais. Entre as atitudes que o discurso literário toma diante disso, destaco duas que me parecem especialmente significativas: deitar no caixão e declarar-se morto, como um personagem de Nelson Rodrigues, procedendo então à auto-autópsia; ou, feito uma drag queen de quermesse, se montar inteiro com maquiagem, bijuterias, próteses, piscando muito para o espelho e dizendo: “Eu existo, ói eu ali”. (Seria interessante – mas foge aos propósitos deste artigo, para não falar da minha competência – investigar o que haverá de analogia estrutural e especularidade simbólica entre duas crises culturais contemporâneas, a “do macho” e a da literatura de ficção.) A verdade é que, além daqueles que a fazem e da pequena seita que a consome sistematicamente, ninguém no mundo está prestando lá uma terrível atenção à ficcão literária, como diriam em inglês – literatura artisticamente ambiciosa, digo eu. A ficção comercial vai bem, mas o público da ficção dita séria míngua ao mesmo tempo que se…
Num dos curtos ensaios de crítica cultural que escreveu entre 1954 e 1956, reunidos no livro “Mitologias” (Difel), o semiólogo francês Roland Barthes se detém com especial crueldade nas franjinhas exibidas por todos os personagens masculinos do filme “Júlio César”, de Joseph L. Mankiewicz, adaptação hollywoodiana da peça de William Shakespeare, com Marlon Brando (foto) no papel de Marco Antônio e James Mason no de Brutus. Declarando o cabeleireiro o “principal artesão do filme”, Barthes registra a variedade das franjas exibidas pelos atores, dizendo que “umas são frisadas, outras filiformes, outras em forma de topete, outras ainda oleosas, todas bem penteadas; os calvos não foram admitidos, embora abundem na história romana”. No entanto, encontra para todas elas um propósito único, que chama de “ostentação da romanidade”: A madeixa na testa torna tudo bem claro; ninguém pode duvidar de que está na Roma antiga. E esta certeza é constante: os atores falam, agem, torturam-se, debatem questões “universais”, sem que, graças à bandeirinha suspensa na testa, percam seja o que for da sua verossimilhança histórica. Mas o que Barthes tem contra franjas romanas, afinal, se nenhuma representação artística pode prescindir de artifícios desse tipo ao propor seu jogo de faz-de-conta? A resposta…
Sempre achei que a campanha de difamação movida contra os adjetivos, como se eles fossem responsáveis por toda a subliteratura do mundo, errou a mão e avançou alguns quilômetros pelo terreno da injustiça. “Quando conseguir agarrar um adjetivo, mate-o”, aconselhou Mark Twain, naquele que é um dos mais famosos na longa lista de insultos dirigidos à “palavra de natureza nominal que se junta ao substantivo para modificar o seu significado, acrescentando-lhe uma característica” (a definição é do Houaiss). Adjetivos colorem o texto: não à toa, todos os nomes de cores são também adjetivos. É possível criar um belo quadro em tons de preto e branco, mas ninguém no mundo das artes plásticas chegaria ao extremo de condenar as cores como pragas: “Quando conseguir agarrar uma cor, mate-a!”. Aprender a usá-las, explorar suas harmonias e desarmonias, isso sim. Mas para tanto é preciso que estejam vivas. * Entende-se de onde vem a má reputação dos adjetivos. Por definição, eles têm mesmo uma tendência maior à futilidade do que os substantivos que escoltam: pendurados nestes, que trazem a substância no nome, são no máximo adjuntos, nunca a atração principal. Certo discurso beletrista – que ainda hoje há quem identifique ingenuamente com a…
Será verdade que só o relato de um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX tem valor como reflexão sobre a forma única e intransferível pela qual os anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX vivenciam sua condição humana? E se a história envolver um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX – e gay? Ou, reparando bem, anã? Devemos criar sempre novos nichos autorais – reservados a anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX gays, mulheres etc. – ou será aceitável que um anão albino estrábico do sexo masculino e heterossexual nascido em Arapiraca no último quarto do século XX exercite sua imaginação para conceber personagens gays ou mulheres que compartilhem sua condição de anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX? Não é de hoje que me assalta a certeza de que certos desdobramentos rasos mas influentes dos estudos culturais, com sua supervalorização do “lugar de fala” como critério de avaliação literária, conduzem reto para o abismo da negação da literatura. Como se isso fosse pouco, terminam por boicotar o que tal perspectiva tem…
Os vapores embriagantes da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que hoje chega ao clímax, são ótimos, mas não negam: o Brasil é um país que despreza a leitura. Entre obrigações escolares, bobagens de autoajuda, cordilheiras de livros para colorir e milhões de exemplares de uma bomba subliterária chamada “Cinquenta tons de cinza”, o brasileiro médio anda lendo 1,7 livro por ano – mais ou menos. Os números costumam variar um pouco, mas foi este que o ministro da Cultura, Juca Ferreira, em entrevista na última terça-feira, chamou de “uma vergonha”. Concordo inteiramente. Mais do que uma vergonha, um motivo de desalento quanto ao futuro do país. Ocorre que a proposta de Ferreira para atacar o problema – uma ampla campanha semelhante “à do Fome Zero e à da paralisia infantil” – não chega a empolgar quem conhece um pouco dessa história. Campanhas de incentivo à leitura são feitas regularmente pelo ministério da Cultura: a de 2012, com o bordão “Leia mais, seja mais”, foi lançada com previsão de investimentos de R$ 373 milhões (mais sobre isso aqui). Iniciativas desse tipo são tão bem intencionadas quanto limitadas. Em parte porque o imperativo costuma soar antipático: “Faça isso!”, diz o iluminado,…
Acredito ter sido, no fundo, o inconformismo com o fato de literatura e vida parecerem habitar duas dimensões tão separadas da existência o que nos levou a inventar um jogo intrincado que misturava folhetim com uma espécie primitiva de RPG – este, embora já existisse, estava longe de fazer sucesso no Brasil e não pode ser considerado uma influência. Estávamos na primeira metade dos anos 1980 e éramos quatro amigos formandos ou recém-formados em jornalismo. Todos apaixonados por literatura, estávamos meio perdidos e talvez assustados (eu pelo menos sim) com as promessas de tédio infinito e massacre cotidiano da criatividade e da alegria que o mundo do trabalho remunerado parecia estender horizonte adentro, a perder de vista. Houve um tempo em que, zeloso de uma coisa arcaica chamada vida privada, eu não nomearia – ou nomearia com pseudônimos – os outros três daquela turma. Hoje esse tempo parece distante, talvez porque eu esteja sob a influência da furiosa evasão de privacidade promovida por Karl Ove Knausgård. De todo modo, não há nada que comprometa ninguém nessas memórias: nem o professor Luiz Carlos Mansur, nem o roteirista David França Mendes, nem o crítico de cinema e escritor Rogério Durst (foto). Além…
– A literatura brasileira contemporânea é uma imensa montanha de cocô. Não produz nada que chegue aos calcanhares da potência de Machado, Rosa ou Clarice. – Pra que ir tão longe? Vamos combinar que também não chega aos pés de Raduan ou do Rubem Fonseca dos bons tempos. – Exato. A literatura virou um espetáculo cheio de som e fúria, mas sem sentido. A tal vida literária tem mais importância do que a arte literária propriamente dita (e impropriamente exercida). Esse circo de festivais, feiras, prêmios, traduções, viagens, oficinas, blogs, networking e o diabo cria uma ilusão de movimento e um verniz de profissionalismo, entre aspas, que encobrem a irrelevância fundamental do ofício. – Eu diria mais: que mascaram um tédio de cemitério. Por que será assim? – Porque tudo já foi dito, ora. Como esperar algo revolucionário ou pelo menos renovador num cenário em que os escritores são robôs teleguiados pelo mercado, aprendem meia dúzia de truques, dominam uma técnica mas não comovem ninguém, não arriscam o pescoço, não incomodam, não acessam o novo? Não têm, em suma, nada a dizer? Não admira que o público ignore esses farsantes. – É o que eu sempre digo. A literatura brasileira…
Acorde pensando no livro. Banhe-se pensando no livro. Coma pensando no livro. Durma pensando no livro. Evite reler o resultado de um bom dia de trabalho mais de sete milhões de vezes. Fracassou? Se fracassou melhor do que antes (crédito para o Beckett), está no caminho certo. Guarde no fundo da gaveta os melhores elogios que receber, para esquecê-los meticulosamente no dia a dia – até precisar deles como agasalho quando vier (virá) a estação dos ventos hostis. Hostis são aqueles ventos que uivam nos ouvidos como as sereias e que, como elas, só matam os que lhes dão ouvidos. Ignore a dor de continuar: continue. Já não sabe por que começou? Bem-vindo ao clube. Avance dez casas. Kafka esteve aqui. Em frente. Leia tudo o que lhe faltava ler da literatura universal antes do jantar, parando para cotejar edições e tomar notas nas margens. Mapeie, por puro espírito lúdico, rotas de fuga imaginárias em direção ao silêncio, mesmo sabendo que é infinito o labirinto de palavras em que se meteu. Negue o que afirmou antes. Obtempere bem. Pode ir ao dicionário agora. Quaquaquá! Rir será, muitas vezes, a única salvação. Lembre-se de que o mesmo vale para o leitor….
Tirei umas breves férias desta coluna – e do Sobre Palavras – para participar do Salão do Livro de Paris, que este ano teve o Brasil como país homenageado, e atender a outros compromissos de lançamento da tradução francesa de “O drible”. Sábado que vem estarei de volta com novidades. Até lá!
O imprescindível jornal mensal “Rascunho”, especializado em literatura, traz na edição que saiu esta semana uma entrevista minha na seção Inquérito, que reproduzo abaixo. Todo mês o jornal curitibano submete as mesmas perguntas – ou mais ou menos isso, pois o número delas cresceu com o tempo – a um escritor brasileiro. O espírito da inquirição é aquele do famoso Questionário Proust, levar o depoente a expor sua “personalidade” em respostas curtas a perguntas singelamente diretas, algumas delas brincalhonas ou excêntricas. Divertido, em suma. Para o arquivo dos Inquéritos, clique aqui. A edição de março ainda não está disponível no site do jornal, mas já pode ser lida em pdf. Destaque para a suculenta primeira parte do ensaio “Dom Casmurro: a obra-prima da reciclagem”, de João Cezar de Castro Rocha, na página 20. * • Quando se deu conta de que queria ser escritor? Aos 14 anos, quando concluí que escrevia melhor do que desenhava. Comecei imediatamente a escrever um conto atrás do outro. A ideia era estar consagrado aos 18, mas não deu certo. • Quais são suas manias e obsessões literárias? Nunca falar do que estou escrevendo ou planejando escrever, pelo menos até o trabalho estar bem adiantado….
Esbarrei dia desses numa lista de dez conselhos – aqui, em espanhol – do romancista americano Richard Ford (foto) a jovens escritores e fiquei matutando sobre esse subgênero das dicas sobre o fazer literário, que sempre mereceu atenção do Todoprosa em seus quase nove anos de história. Embora sejam discutíveis em princípio, claro, simplesmente por serem conselhos, os de Ford têm lá sua graça. O que neles mais chamou minha atenção foi o fato de serem, em sua maioria, toques de vida, de comportamento, de postura diante do trabalho – e não de técnica, estilo, relação com as palavras, condução do ritmo narrativo ou composição dos personagens. Acredito que isso os faça mais úteis. “Case-se com alguém que ame e que ache uma boa ideia você ser escritor”, recomenda Ford já na abertura do decálogo. E mais à frente: “Não discuta com sua mulher”; “Não deseje mal a seus colegas”; “Tente pensar no sucesso dos outros como um estímulo para você”. O que pode parecer uma cartilha de bom-mocismo entra também por terreno íntimo e polêmico: “Não tenha filhos”. Puxa, será que um escritor com filhos deve desistir da carreira? Eu tenho dois. É claro que ninguém deve tomar ao…
Nada a ver com saudosismo. Eu mal entrava na adolescência, e os livros que lia na época eram bem diferentes dos que vou citar aqui. Apenas aconteceu que, intrigado por uma coincidência flagrada casualmente, comecei a puxar um fio na estante e acabei com uma pilha de evidências de que a safra de 1975 foi gloriosa para a literatura brasileira – a última de nossas safras gloriosas, como se depois disso a terra tivesse secado, tornando as colheitas mais espaçadas. Antes de tentar explicar a generosidade literária daquele tempo – e a relativa sovinice dos anos seguintes –, convém justificar a tese. Para tanto basta dizer que 75 trouxe à luz, de uma só vez, duas obras-primas espantosas e cabais: “Feliz ano novo”, de Rubem Fonseca, e “Lavoura arcaica”, de Raduan Nassar (eis a coincidência em que reparei por acaso). Só isso já seria histórico. Tem mais. De saída, que tal juntar à pilha o “Zero” de Ignácio de Loyola Brandão? A qualidade é desigual, eu sei. Talvez o confuso “Zero” nem faça muito sentido lido fora da moldura de um regime autoritário, mas, censurado, converteu-se em livro-símbolo de um tempo. Ou seja: entre méritos literários e históricos, entre texto…
Entre os temas sobre os quais os escritores são chamados a responder com frequência, o da “rotina de trabalho” deve estar no topo da lista ou bem perto dele. São muitas as perguntas que cabem nessa categoria. Você escreve todos os dias? Tem uma meta de produção? Um número fixo de horas? Manhã, tarde ou noite? Observa algum ritual, alguma superstição? Desconecta-se da internet para escrever? Desliga o celular? Sim, o interesse por tal tipo de informação sobre os bastidores da escrita é em grande parte fetichista, uma forma de atribuir à criação literária uma aura mágica (“Como você consegue?”), recusando a ideia de que escrever é nada mais que um trabalho – com suas peculiaridades, claro, mas um trabalho. Como ocorre em todo ofício, cada trabalhador deve encontrar os métodos e rotinas que mais lhe convenham. O risco do fetichismo é levar os incautos a se fixar no acessório e descuidar do principal. Dizem que Ernest Hemingway gostava de descascar um certo número de laranjas antes de começar a escrever, mas pode-se afirmar com absoluta certeza que nenhuma atividade envolvendo frutas cítricas jamais levou ninguém a desenvolver um estilo tão cortante e conciso quanto o do autor de “Por…
“Não sou chauvinista com meu país, mas sou chauvinista com a língua hebraica.” Estou conversando com o escritor israelense Amós Oz num canto tranquilo de um dos amplos espaços vazios do segundo andar do aristocrático hotel Copacabana Palace. Depois de muitas perguntas sobre literatura e política (que renderam essa entrevista), o papo desagua com naturalidade na língua, como se fosse um rio que corresse para o mar. Conversamos em latim contemporâneo, isto é, inglês. Sei tanto de hebraico, clássico ou moderno, quanto Amós Oz sabe de português – talvez um pouco menos. No entanto, já tendo me deparado muitas vezes com a metáfora do idioma como instrumento musical que todo escritor precisa dominar, entendo o brilho nos olhos do homem quando ele se derrama todo por uma língua antiga que por pouco não ficou congelada nos textos sagrados, perfeita e morta como o latim num poema de Ovídio. Salva há pouco mais de um século de um declínio que parecia inexorável, a língua em que escreve Oz vem se firmando nas últimas décadas, como o próprio Estado de Israel, sobre um ato de vontade política. “O hebraico moderno é um instrumento tremendo, porque é ao mesmo tempo antigo e moderno”,…
O Grande Prêmio Portugal Telecom conferido esta semana a meu romance “O drible” me deu vontade de compartilhar com os leitores, além da alegria por esse reconhecimento, algum tipo de presente que expressasse minha gratidão pelo carinho com que o livro foi recebido desde seu lançamento, em setembro do ano passado. Acabei indo buscar no almoxarifado aqui do computador uma cena que excluí da edição final e que, com um pouco de sorte, pode ter alguma graça como curiosidade para os leitores do livro, como uma faixa-bônus naquelas edições comemorativas dos discos de antigamente. Mais do que mera curiosidade, é possível que a cena seja também, no espírito das reflexões sobre o ofício de escrever que costumam frequentar este espaço, ilustrativa da importância de um certo desapego na hora da edição final de uma história. Eu gostava muito do personagem secundário que contracena com Neto, uma das figuras centrais de “O drible”, no trecho abaixo. Descrito como parecido com Sammy Davis Jr. ou Dom Pixote – o que é condizente com as imagens de cultura pop e lixo televisivo antigo que enchem a cabeça de Neto –, o pedreiro Sebastião surgiu para fazer uma ponta, mas chegou com força impressionante….