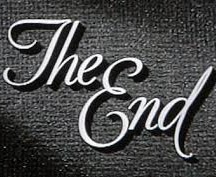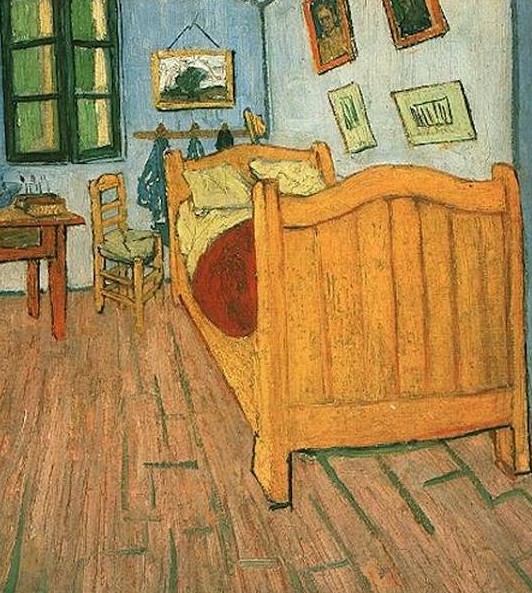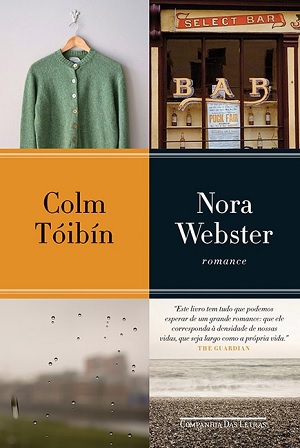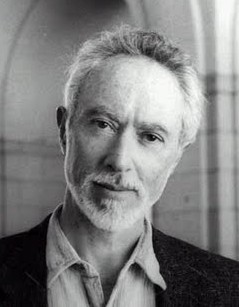Então é só isso? Umas poucas palavras bem colocadas e pronto, ali está o leitor na ponta da linha, anzol cravado na bochecha? Sim, mas também pode ser só isso: uma única palavra em falso e o peixe desaparece nas profundezas para nunca mais passar perto do seu bote. O que vai ser? Em qualquer praia estética, esteja ele muito ou nada interessado em ser acessível a um grande número de leitores, acredito que esta preocupação habite a cabeça de todo escritor digno desse nome, isto é, qualquer um que escreva para ser lido por alguém e não apenas para expressar seu eu profundo: como dar às palavras, uma após a outra, uma certa ressonância de verdade? Estamos em terreno traiçoeiro. Em primeiro lugar convém deixar claro que a palavra verdade não tem aqui – não ainda – a menor fumaça filosófica, histórica ou mesmo emocional. Importa menos “a verdade” do autor ou da história que ele conta do que “uma certa ressonância de verdade”. Sim, é claro que uma dimensão está ligada à outra em algum nível profundo, mas vamos supor que ainda não mergulhamos o suficiente para chegar lá. Estamos na superfície do texto, mal equilibrados em nosso…
Você já encontrou a afirmação por aí: “É mais difícil escrever um conto do que um romance”. É possível até que a tenha encontrado tantas vezes que já a considere uma daquelas profundas verdades contraintuitivas da existência. Algo como o equivalente literário de “o café da manhã é a principal refeição do dia”, falso axioma que também costuma ser repetido sem que se leve em conta a motivação do publicitário que primeiro o imprimiu numa caixa de sucrilhos. Não, a ideia não é sugerir que o conto está para o romance como o café da manhã está para o almoço ou jantar. A questão é mais complexa, como veremos. Mas vamos começar pela motivação. Talvez a primeira pessoa que afirmou aquilo, seja quem for, tivesse um intuito nobre: combater a percepção popular, leiga e equivocada de que escrever uma história curta é moleza. Machado de Assis, magistral tanto no romance quanto no conto, jamais entrou, que eu saiba, nesse joguinho comparativo furado, mas também se sentiu obrigado a defender a narrativa breve da pecha de facinha: “É gênero difícil a despeito de sua aparente facilidade, e creio que essa mesma aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores e não…
Não há nada no Brasil que se possa comparar à epidemia do tijolo que assola a ficção internacional, sobretudo a americana. Aqui “Viva o povo brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, de 1984, com suas 640 páginas, é considerado um livro longuíssimo, quase uma aberração. Historicamente temos “Os sertões”, de Euclides, e é verdade que “O tempo e o vento”, de Erico Verissimo, daria um cartapácio para lá de exuberante se saísse num volume só. Alguém mencionou “A pedra do reino”, de Ariano Suassuna (756)? De todo modo parece que, depois de “Viva o povo” – concebido, segundo o próprio João Ubaldo, para ser antes de mais nada “um livro grosso”, em resposta a um desafio do editor Pedro Paulo de Sena Madureira –, o único a ir realmente longe nessa corrida é “Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves (952!), um livro ímpar por outros motivos além deste. Atrás dele, no último quarto de século, há um vácuo de algumas centenas de páginas e só então começam a aparecer aqui um “Pornopopeia”, de Reinaldo Moraes (480), ali um “O paraíso é bem bacana”, de André Sant’Anna (456), acolá um “Barba ensopada de sangue”, de Daniel Galera (424). Há poucos…
Na entrevista que Kurt Vonnegut (1922-2007) viagra online usa deu à “Paris Review”, lida há muitos anos, há um trecho que nunca me saiu da cabeça. Nele o escritor americano, autor de “Matadouro 5”, faz com a verve que lhe era característica uma defesa da boa e velha contação de histórias: Garanto a você que nenhum esquema narrativo moderno, nem mesmo a ausência de enredo, dará ao leitor satisfação genuína, a menos que uma daquelas tramas à moda antiga seja contrabandeada para dentro da história. Não defendo a trama como representação acurada da vida, mas como forma de manter o leitor lendo. Quando eu dava aulas de criação literária, costumava recomendar aos estudantes que fizessem seus personagens desejar alguma coisa imediatamente – mesmo que apenas um copo d’água. Personagens paralisados pela ausência de sentido da vida moderna ainda precisam beber água de vez em quando. Um dos meus alunos escreveu um conto sobre uma freira que ficou com um pedaço de fio dental preso entre os molares inferiores e não conseguia se livrar dele o dia inteiro. Achei isso maravilhoso. A história lidava com questões muito mais importantes do que fios dentais, mas o que mantinha os leitores presos era…
A primeira referência que encontrei à autonomia dos personagens literários me impressionou muito. Era adolescente, começava a tentar pôr de pé o plano insensato de um dia escrever livros e fiquei boquiaberto ao descobrir que um escritor podia se declarar impotente diante do livre-arbítrio manifestado por criaturas que ele próprio tinha criado. Como assim – então não era o autor que mandava? A revelação constava de um dos prefácios que Erico Verissimo, meu primeiro ídolo literário, havia escrito para suas (ainda incompletas) obras completas, coleção de capa dura azul que ocupava lugar de honra na estante lá de casa. Não demorou para que meu estranhamento desse lugar a uma profunda reverência diante do supremo mistério da criação. Não registrei na memória o momento exato em que mudei de ideia, mas lembro-me de, poucos anos mais tarde, abrir um sorrisinho sarcástico toda vez que esbarrava – e esbarrava o tempo todo – num artigo ou entrevista em que um escritor evocava o supremo mistério da criação, alegando que seus personagens só faziam o que bem entendiam e tal. Pô, aqueles caras pensavam que estavam enganando quem? Tremendo caô, claro. Tentativa canhestra de mitificar e dar caráter quase divino a algo que…
A importância do silêncio numa narrativa de ficção se manifesta de diversas formas, incluindo as óbvias elipses e subentendidos, pois, como disse Erico Verissimo (que cito de memória), “um dos segredos do romancista é nunca explicar demais”. Tudo aquilo que não é dito oferece à imaginação do leitor – coautor pouco comentado de qualquer obra literária – espaço para se espraiar, ligar os pontinhos, produzir e não apenas decifrar sentido. Embora geralmente esquecido, até mesmo o silêncio que vem antes da primeira frase do texto, como os milênios de não-ser que precedem o nascimento de qualquer bebê, é tão fundamental quanto o clímax de uma história. O silêncio que vem depois do fim, então… Vamos começar pelo começo. Entramos em “Viva o povo brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, um dos grandes romances de nossa literatura, vendo o herói ser fuzilado. A sugestão de uma longa história passada, mas calada, insinua-se na estranha precedência de uma conjunção adversativa a adversar o ignorado: Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do Alferes José Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro…
Lendo um texto literário, tento decifrar por que ele me agrada tanto e chego à ideia de precisão vocabular. Será isso? Não, claro que nunca é uma coisa só, mas será isso em primeiro lugar – a precisão na escolha das palavras? O fato de as palavras vestirem as ideias como uma malha justa, roupa de mergulhador, segunda pele através da qual a ideia exibe suas formas com perfeição, quase como se já não fosse a ideia de uma coisa, mas a coisa mesmo? * Um dos aspectos intrigantes da caça ao vocábulo preciso, aquilo que Gustave Flaubert chamava de le seul mot juste, é o fato de, sendo tão inerente ao bem escrever, ser tão difícil de ensinar. Para começar, não é nada fácil de definir, e a malha ou segunda pele é uma metáfora desesperada que reconhece essa dureza. Identificamos a precisão quando a temos diante do nariz, mas em que ela consiste exatamente? * Aqui talvez seja necessário afastar a ideia, folclórica mas nunca distante dessa conversa, da “palavra justa” como frescura e álibi para a paralisia do escritor – como parece ter sido muitas vezes para o próprio Flaubert. Se você está escrevendo um conto policial…
“Escrever é cortar palavras”, disse Carlos Drummond de Andrade, mas talvez não tenha sido ele: parece que, na ânsia de enxugar, alguém acabou cortando o crédito. Importa pouco a autoria do conselho. Com essas ou outras palavras, o elogio da concisão é a lição mais ouvida por aprendizes das letras há mais de cem anos. Quer dizer que antes disso o poder de síntese não valia nada? Claro que valia. Os poetas da antiga Grécia cultivaram a brevidade do epigrama. No início do século XVIII, o poeta inglês Alexander Pope, tradutor de Homero, dizia que palavras são como folhas de árvore: quando são muito abundantes, diminui a chance de vislumbrarmos ali embaixo “o fruto do sentido”. No entanto, parece ter sido nas primeiras décadas do século XX que o relógio do mundo acelerou de vez e deixou com cara de obesa uma silhueta textual – a palavrosa – que até então ainda podia ser vista como atraente e saudável. Mais ou menos o que tinha ocorrido um pouco antes com as mulheres de Rubens. Pode-se relacionar esse aguçamento da implicância com o desperdício vocabular a uma série de fenômenos, como a industrialização e a vida urbana. Parece claro que um…
A literatura é hoje um campo que se questiona de modo histérico, com resultados entre o suicida e o narcísico. O discurso literário parece sentir que perdeu o direito à existência. O que quer que o justificasse perante si mesmo não o justifica mais. Entre as atitudes que o discurso literário toma diante disso, destaco duas que me parecem especialmente significativas: deitar no caixão e declarar-se morto, como um personagem de Nelson Rodrigues, procedendo então à auto-autópsia; ou, feito uma drag queen de quermesse, se montar inteiro com maquiagem, bijuterias, próteses, piscando muito para o espelho e dizendo: “Eu existo, ói eu ali”. (Seria interessante – mas foge aos propósitos deste artigo, para não falar da minha competência – investigar o que haverá de analogia estrutural e especularidade simbólica entre duas crises culturais contemporâneas, a “do macho” e a da literatura de ficção.) A verdade é que, além daqueles que a fazem e da pequena seita que a consome sistematicamente, ninguém no mundo está prestando lá uma terrível atenção à ficcão literária, como diriam em inglês – literatura artisticamente ambiciosa, digo eu. A ficção comercial vai bem, mas o público da ficção dita séria míngua ao mesmo tempo que se…
Num dos curtos ensaios de crítica cultural que escreveu entre 1954 e 1956, reunidos no livro “Mitologias” (Difel), o semiólogo francês Roland Barthes se detém com especial crueldade nas franjinhas exibidas por todos os personagens masculinos do filme “Júlio César”, de Joseph L. Mankiewicz, adaptação hollywoodiana da peça de William Shakespeare, com Marlon Brando (foto) no papel de Marco Antônio e James Mason no de Brutus. Declarando o cabeleireiro o “principal artesão do filme”, Barthes registra a variedade das franjas exibidas pelos atores, dizendo que “umas são frisadas, outras filiformes, outras em forma de topete, outras ainda oleosas, todas bem penteadas; os calvos não foram admitidos, embora abundem na história romana”. No entanto, encontra para todas elas um propósito único, que chama de “ostentação da romanidade”: A madeixa na testa torna tudo bem claro; ninguém pode duvidar de que está na Roma antiga. E esta certeza é constante: os atores falam, agem, torturam-se, debatem questões “universais”, sem que, graças à bandeirinha suspensa na testa, percam seja o que for da sua verossimilhança histórica. Mas o que Barthes tem contra franjas romanas, afinal, se nenhuma representação artística pode prescindir de artifícios desse tipo ao propor seu jogo de faz-de-conta? A resposta…
Este post, minha despedida do portal Veja, fica apenas como registro. O fim lá é um recomeço aqui, no velho Todoprosa de sempre. Seja bem-vindo(a)! A MULHER DE BOTERO João Pontes, o escritor, olhou um dia pela janela ao lado de sua mesa de trabalho, no nono andar de um edifício na Gávea, e viu na cobertura do outro lado da rua, bem à sua frente, entre vasos de planta, uma mulher de Botero. A visão o desagradou, como o desagradavam as mulheres de Botero. Mas logo João a decompôs numa ilusão de folhas amarelas e vasos escuros, tela nublada pela lâmina de vidro que tudo recobria, com seus reflexos e sombras. Terminou por achar graça: a assombração era um incrível trompe-l’oeil produzido pelo acaso. Concentrou-se então no trabalho por mais meia hora – escrevia seu quinto romance, uma ficção histórica sobre o bando de Lampião – e, mal deixou o olho escapar pela janela atrás de um nome próprio, a palavra cardo, o adjetivo ressequido, lá estava a mulher de Botero outra vez. Era uma visão súbita, perfeita, de uma nitidez que dava náusea. E de novo, o que era estranho, João a recebeu com a surpresa de um…
Com mais de 80 milhões de exemplares vendidos e uma adaptação hollywoodiana de sucesso, a trilogia de suspense e ação Millennium, do escritor e jornalista sueco Stieg Larsson, ganha agora um quarto volume: “A garota na teia de aranha” (Companhia das Letras, tradução de Guilherme Braga e Fernanda Sarmatz Akesson, 472 páginas, RS 44,90). Se a notícia é boa ou má para sua legião de fãs, eis um mistério que, como nos bons thrillers, só a leitura atenta do livro pode resolver. Ocorre que Larsson não escreveu o quarto romance da série nem poderia tê-lo feito: morto aos 50 anos, vítima de um ataque cardíaco, não teve tempo sequer de ver o primeiro título, “Os homens que não amavam as mulheres”, ser publicado em 2005. A continuação da saga do jornalista investigativo Mikael Blomkvist e de sua aliada sociopata, a jovem hacker pós-punk Lisbeth Salander, é assinada por David Lagercrantz, também sueco e também dono de uma carreira equilibrada entre o jornalismo e a literatura. A fidelidade de Lagercrantz ao universo de Larsson é meticulosa. O idealista Blomkvist, sócio da revista Millennium, continua determinado a usar seus talentos de repórter para defender os oprimidos e atacar o que, às vezes…
A cena abaixo é uma das mais famosas – e infames – de “Ulisses”, do irlandês James Joyce (“Ulysses” na edição da Penguin-Companhia, tradução de Caetano Galindo, 1112 páginas, R$ 50,00). Parte do que a fez tão especial pode escapar aos leitores de hoje, habituados a todo tipo de indiscrição literária: o escândalo provocado nas primeiras décadas do século XX pelo fato de Joyce ter acompanhado o personagem Leopold Bloom em sua ida matinal ao banheiro, jornal na mão, na cabeça a ideia de se livrar de uma prisão de ventre. Em vez de esperar do lado de fora, por pudor ou bom gosto, o escritor entra com Bloom no reservado malcheiroso e faz o que está determinado a fazer em seu romance estranho, excessivo, prodigioso (mais sobre ele aqui): narrar tudo o que se passa diante dos sentidos e dentro da cabeça de seus personagens naquele 16 de junho de 1904 em Dublin. O resultado é o esquete abaixo, com sua comicidade ultrajante que a excelente tradução de Galindo aproveita ao máximo. E que inclui até uma autoironia feroz, prova de que Joyce, ao escrever aquilo, divertia-se com o furor que ia causar: “Imprimem qualquer coisa hoje em dia”,…
Sempre achei que a campanha de difamação movida contra os adjetivos, como se eles fossem responsáveis por toda a subliteratura do mundo, errou a mão e avançou alguns quilômetros pelo terreno da injustiça. “Quando conseguir agarrar um adjetivo, mate-o”, aconselhou Mark Twain, naquele que é um dos mais famosos na longa lista de insultos dirigidos à “palavra de natureza nominal que se junta ao substantivo para modificar o seu significado, acrescentando-lhe uma característica” (a definição é do Houaiss). Adjetivos colorem o texto: não à toa, todos os nomes de cores são também adjetivos. É possível criar um belo quadro em tons de preto e branco, mas ninguém no mundo das artes plásticas chegaria ao extremo de condenar as cores como pragas: “Quando conseguir agarrar uma cor, mate-a!”. Aprender a usá-las, explorar suas harmonias e desarmonias, isso sim. Mas para tanto é preciso que estejam vivas. * Entende-se de onde vem a má reputação dos adjetivos. Por definição, eles têm mesmo uma tendência maior à futilidade do que os substantivos que escoltam: pendurados nestes, que trazem a substância no nome, são no máximo adjuntos, nunca a atração principal. Certo discurso beletrista – que ainda hoje há quem identifique ingenuamente com a…
É fácil reconhecer que “Nora Webster”, do irlandês Colm Tóibín (Companhia das Letras, tradução de Rubens Figueiredo, 398 páginas, R$ 54,90), é um grande romance. Difícil é explicar por que é assim. Em outras palavras, a rendição do leitor às artes e artimanhas do autor é imediata, garantindo uma leitura imersiva e um interesse apaixonado pela protagonista e pelas pessoas que lhe são caras, mas o crítico tem tarefa mais cascuda: determinar o que, num texto que é um implacável exercício de contenção emocional e sobriedade narrativa, confere grandeza a uma história tão pequena, tão banal, e termina por desenhar na imaginação do leitor uma personagem feminina que parece viva como poucas na história da literatura. “Nora Webster” é um romance realista que cobre três anos na vida da personagem-título, entre o fim dos anos 1960 e o início dos 70. Dona de casa quarentona do interior da Irlanda, Nora acabou de ficar viúva quando o narrador em terceira pessoa começa a acompanhá-la com uma fidelidade que não vai esmorecer até o ponto final. Não há alternância de pontos de vista e a rigor, com exceção de algumas recordações esparsas de Nora, não há flashbacks. “Isso era passado, pensou Nora…
Um carro tem defeito no meio do nada, numa estrada deserta na província argentina do Chaco. A bordo dele vão um pastor evangélico itinerante e sua filha adolescente. Rebocados até a oficina de beira de estrada de um mecânico solitário e grosseirão, que vive ali na companhia de um garoto silencioso, também adolescente, e um número indefinido de cachorros, pai e filha terão que esperar que o carro seja consertado para seguir viagem. Com esses elementos escassos, a escritora argentina Selva Almada compôs a narrativa “O vento que arrasa”, publicada por lá em 2012 e agora lançada no Brasil (Cosac Naify, tradução de Samuel Titan Jr., 128 páginas, R$ 29,90). Recebido com entusiasmo crítico incomum em seu país, o livro foi eleito o melhor lançamento da ficção argentina naquele ano, em votação organizada pela referencial editora e livraria Eterna Cadencia, e sai aqui com orelha empolgada da crítica Beatriz Sarlo, que o chama de “romance surpreendente” de “uma narradora original”. Em primeiro lugar, será preciso corrigir a classificação de “O vento que arrasa” como romance. Trata-se sem dúvida alguma de uma novela, ainda que generosamente engordada pelo papel robusto (Pólen Bold 90) e pelas dimensões da mancha gráfica. Essa correção…
“Para um homem de sua idade, cinquenta e dois, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo.” A frase inicial do romance “Desonra”, livraço lançado em 1999 pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee (Companhia das Letras, tradução de José Rubens Siqueira), é tão lapidar quanto enganadora. Não, o professor de literatura David Lurie, especializado em poesia romântica e funcionário de uma universidade na Cidade do Cabo, não resolveu nada bem o “problema de sexo”. Por isso mesmo, na primeira cena abaixo, entrará com sua aluna Melanie, jovem, bonita e aspirante a atriz, numa zona crepuscular entre o sexo consentido e o forçado – tristíssimo, de todo modo, como costuma ser o sexo em Coetzee, ainda que a princípio pareça representar para o cinquentão desiludido uma inesperada volta às boas graças de Afrodite. “Estupro não, não exatamente”, avalia Lurie. O leitor que porventura não ficar convencido será apresentado cerca de cem páginas mais tarde, para que possa comparar, a um estupro incontestável. Mas essa é outra história. As duas cenas abaixo se encontram no começo do romance (nada de spoiler desta vez, moçada) e marcam o início do processo de desonra, destituição e, por fim, completa aniquilação…